Avanço pelo cemitério de Matosinhos, minha terra natal.
Está uma tarde pálida de Setembro. Ora faz sol, ora escurece. Nuvens cinzentas passeiam-se lentamente no céu. Não há ninguém a arranjar as campas, como outrora. O silêncio é total neste vasto campo de mortos.
E eu vou visitar os “meus” mortos.
À volta, a rodear o mar de campas rasas, perfilam-se as capelas mortuárias com os brasões das respectivas famílias. As famílias mais distintas e antigas da terra. A maioria destas capelas estão em abandono, são famílias que se extinguiram. Os ladrões deixam portas arrombadas e jarras partidas pelo chão. Como os mortos eram ricos em vida, pensam que ainda poderá haver por lá qualquer coisinha, uma incrustação de prata aqui e acolá…
Quando era muito pequena, depois da missa do meio-dia, a minha mãe levava-nos à capela onde estava o «avozinho», o pai dela, assim ternamente chamado porque «era um santo». Foi o meu primeiro morto, o “avozinho”. Diziam-nos que tinha sido um santo, pois sendo médico, nunca levou nada aos pobres, e aos ricos também não, porque eram amigos dele. E como só havia na terra ricos e pobres… Devia ser um santo, mas também era muito rico!
Nas campas rasas há molduras com fotografias, que me reportam aos anos 40, 50. Junto às molduras, jarrões de flores e frases gravadas na pedra em letras enormes, artisticamente desenhadas.
E logo à entrada deparo com uma campa, já minha conhecida, cuja dedicatória em letras douradas, me fazia muita impressão quando era miúda. Diz, «Filho muito amado, descansa em paz com o eterno amor e saudade dos teus pais». Ao lado, uma moldura de um menino com talvez cinco anos.
Saía dali numa tristeza profunda, pensando na dor daqueles pais. Agora, ao voltar lá, sessenta e sete anos depois, penso que aquele menino que tanta saudade deixou aos seus pais, deveria ter a minha idade! Seria velho, se estivesse vivo…ou até já nem teria idade para estar vivo!
Os que o amaram e sofreram aquela dor enorme, já morreram há muito. Ninguém mais se lembra dele. Já não há jarra de flores, a moldura está partida, as letras da dedicatória estão gastas, mal se leem, e a campa com ar de abandonada.
É isto um cemitério, local de sinais, sinais de vidas passadas, sinais de dor, de sofrimento, de amor, de saudade. E de passagem do tempo. O tempo que tudo apaga, até a dor da morte de um filho. E era tudo tão distante, tão irreal, tão fantasmagórico…, o cemitério e o tal “avozinho”, quando eu tinha cinco e seis anos! Era como um filme, ao Domingo de manhã.
Agora estão lá os meus mortos. O meu Pai, a minha Mãe e um irmão que só tinha mais um ano do que eu.
Leio os nomes deles ali gravados. E só isso me faz chorar. Somos seres imperfeitos, conscientes dessa mortalidade, mesmo quando a repelimos. Quando choramos as nossas perdas, os nossos mortos, também nos choramos a nós. Como éramos. Como já não somos. Como um dia não seremos mesmo nada.
E tentei falar com eles, disse-lhes: Mãe, Pai, eu sou a Manuela, a vossa quarta filha. Tenho setenta e três anos. Tenho netas. Estou velha. Não fui nada do que vocês gostariam, lamento. Mesmo assim, os anos passaram e cheguei até aqui…
O meu Pai, sempre terno e pensador, respondeu: Manelinha, vês, és bem mais velha do que eu… (Ele morreu com sessenta e dois anos). Agora tens mais onze anos do que eu!
O Alexandre, meu irmão, disse-me: Manuela, não fume, está a ver, se eu tivesse parado de fumar… Querido irmão! Tenho mais seis, mas tu eras um irmão para mim!
Como a minha Mãe não dizia nada, eu disse: Mãe, Mãe, estou aqui…
E ali, junto à sua sepultura, onde parecia que tudo o que ela fora tinha acabado definitivamente, quanto mais não fosse pelo peso daquela pedra com o seu nome gravado, esperei que ela falasse. Mas não…
Veio-me à memória a recordação mais recente deles. A minha mãe, com noventa anos, com dificuldade em andar e muito aborrecida por ter uma empregada sempre agarrada ao seu braço. Desmoralizada por ter perdido a sua independência.
O meu Pai, com sessenta e dois, de certa forma ainda jovem. Na véspera do dia em que morreu, tinha estado todo o dia na praia. Estava rouco, muito rouco. Estávamos à mesa quando ele caiu com o ataque do coração. Estendido no chão, vomitou. Ajoelhei junto dele e disse «Pai, vomite, vomite à vontade». Fiquei com o seu olhar incrédulo.
O Alexandre, a entrar na Igreja com a filha mais nova pelo braço. O casamento. Os filhos e os netos todos juntos. Depois tentei evocar recordações mais antigas, esforçando-me por recuar o mais possível no nosso passado comum. As brincadeiras com o Alexandre nos campos a atirarmos torrões de terra uns aos outros. A ternura dos postais que meu Pai me escrevia para o colégio interno. Da minha mãe não tinha recordações ternas. Mas lembrei-me da sua figura em nova, da sua agilidade e beleza e isso também me comoveu.
E então uma grande emoção apoderou-se de mim.
Eram apenas ossos, ossos num caixão, mas os ossos deles eram os meus ossos. E aproximei-me o mais possível daqueles ossos, como se a proximidade pudesse ligar-me a eles e consolar-me da solidão trazida pela idade, unindo-me de novo a tudo o que já desapareceu. Apesar da intrusão do ambiente decadente e solitário daquele cemitério vazio, estive fixada naqueles ossos durante uma hora. Estando na presença deles, não podia abandoná-los, não podia deixar de falar com eles, não podia deixar de os escutar quando falavam. Entre mim e aqueles ossos passou-se muita coisa… muito mais do que o que exista entre mim e aqueles que ainda estão revestidos de carne.
A carne desfaz-se, mas os ossos perduram. Os ossos são a única consolação para quem não acredita na vida para além da morte e sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que deus é uma ficção e esta é a única vida que irá ter.
Não estava a tentar transformar nada em realidade, “Aquilo” era a realidade, a intensidade da ligação àqueles ossos. Não podia vir-me embora. A ternura estava descontrolada, assim como o desejo que toda a gente estivesse viva e de que tudo começasse de novo.
Manuela Carona
Outubro, 2021
Fotos de Manuel Rosário e Minnie Freudenthal



























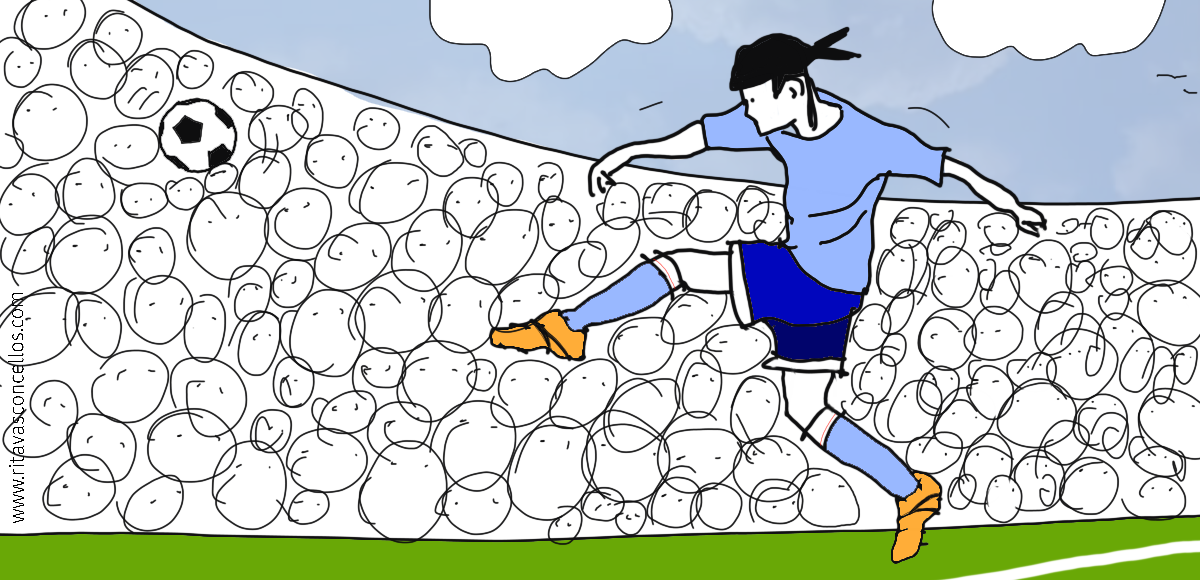




Jose Vaz Carneiro | 2021-10-31
|
Uma viajem inesperada, transportado pela verve da Manuela Carona.
Quando viajo visito sempre os cemitérios à procura de epitáfios.
No de Luanda, há um que conta a história duma mulher de 23 anos e de sua filha de 3 meses no princípio do século XIX. A bofetada vem quando lemos elas terem morrido NO MESMO DIA.. Paludismo ? Ataque de nativos hostis ?
Deixou-me estupidificado
manuela carona | 2021-11-02
|
Obrigado por ter gostado.
Esses epitáfios que nos põe a imaginação a ferver!
Ana Zanatti | 2021-11-01
|
Querida Manuela, li e reli o teu texto tão rico das tuas emoções e das que despertou em mim. Mas não creio que sejam só os ossos que perduram. Perdura o amor, o cuidado, as alegrias que os corações como o teu, conscientes da mortalidade da carne, sabem distribuir em vida e que ajudam a superar algumas dores infligidas pela inconsciência ou maldade alheia.
Obrigada por estes minutos tão especiais que nos dás.
um beijo saudoso
Ana
Maria Manuela Carona Mendes Correia | 2021-11-02
|
Querida Ana, muito obrigado pelas tuas palavras tão bonitas. Um abraço apertado com muitas saudades
Isabel Almasqué | 2021-11-02
|
Belo texto que nos transporta para o labirinto das nossas memórias. Todos nós temos os nossos ossos privativos, que passaram pelas nossas vidas e que nos marcaram, uns mais, outros menos. Persistem na nossa memória e, no fundo, é com ela que conversamos. Que memórias deixaremos nós quando também formos só ossos?
Maria Manuela Carona Mendes Correia | 2021-11-02
|
Muito obrigado por ter gostado. Também penso muitas vezes que memorias deixarei quando for ossos…Abraço