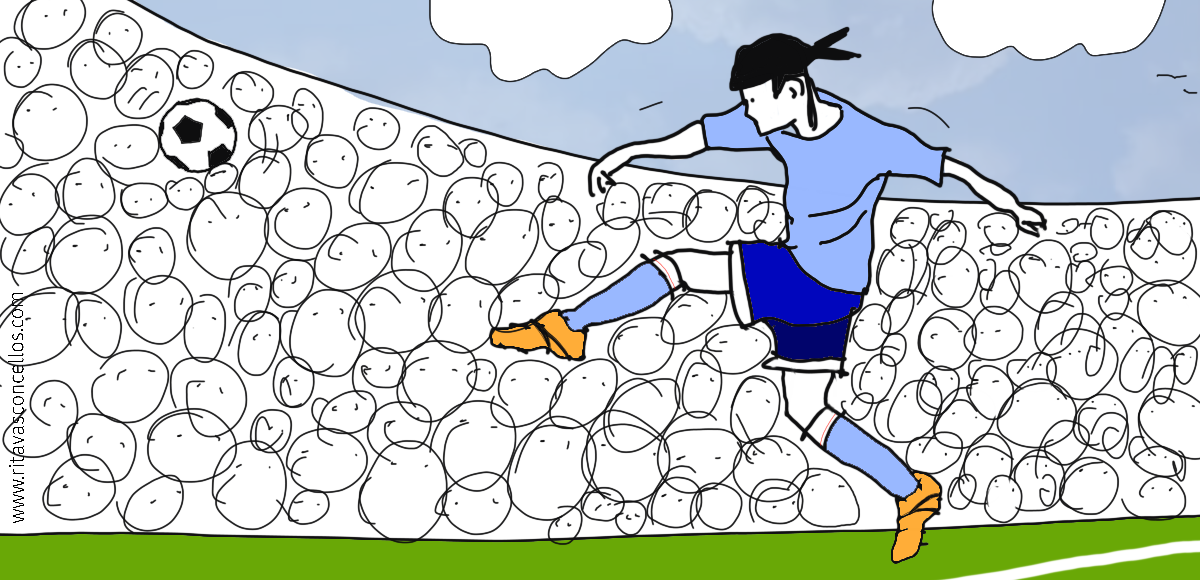É sexta-feira, e na rádio Ronald Reagan ofega mais um discurso. Ouço-o frequentemente, Reagan aparece sempre no noticiário, na TV, na rádio. Esta é a sua década, e os seus discursos sibilinos prometem um mundo de prosperidade, ou tentam acalmar-nos os ânimos quando começamos a perceber que o desemprego está a aumentar, que a economia se está a desintegrar e que se ouvem os tambores de guerra com mais frequência que o desejado.
É perto das três da tarde. Às três e meia entramos na fábrica. Chego sempre cedo para garantir estacionamento à sombra antes que o parque se encha com as banheiras enferrujadas que os meus camaradas de turno conduzem. Gosto de ficar sentado no carro, aqui à sombra, a ouvir o Reagan, enquanto vejo os outros chegarem.
Os Persas são os primeiros a chegar. Conduzem carros japoneses antigos bem conservados, é um grupo que pertence a uma demografia com hipotecas e filhos na faculdade. Juntam-se em redor dos canteiros do parque de estacionamento, acenam para as nêsperas maduras que só eles e os Portugueses comem, inspecionam as marmitas do jantar com expressões vazias, e depois murmuram sarcasmos na direcção dos outros grupos que vão chegando a minutos uns dos outros. Falam pouco entre si, e nada dizem aos outros grupos, excepto talvez aos Portugueses.
Uma multidão sorteada chega depois dos Persas: Nicaraguenses, Salvadorenhos, um Guatemalteco aqui e ali. Conduzem uma frota automóvel decrépita, rendida à ferrugem e exalando um fedor a gases de escape. São afáveis, até mesmo tontos nesta tarde de sexta-feira, e ao se aproximarem da entrada da fábrica um deles lê o aviso que a administração colocou na porta a anunciar a obrigatoriedade de horas extraordinárias para amanhã. Traduz o aviso para Espanhol, e a multidão aviva-se com comentários.
Chega depois um contingente de Mexicanos. A maioria conduz velhos modelos de carros americanos, que parecem seguir uma lei binomial segundo a qual alguns carros têm pinturas artísticas e imaculadas, enquanto os outros se desintegram ativamente sob uma forma agressiva de lepra metálica. Os Mexicanos formam um grupo homogéneo que parece quase reservado em comparação com o resto da população hispânica. O formigueiro alvoroçado com que saem dos carros acalma-se à medida que se aproxima a hora do nosso turno. É então que o nosso entusiasmo se esvazia, e atravessamos a porta estreita e cinzenta da fábrica, fazemos fila, picamos o ponto e espalhamo-nos em direcção aos nossos postos. Durante as nove horas que se seguem, galvanizamos, perfuramos, serigrafamos, cortamos e moldamos inúmeras placas de circuitos impressos. Temos dois intervalos de quinze minutos, e um de meia hora para o jantar. São nove horas diárias que trocamos por um salário mínimo. Somos quase todos imigrantes, alguns com documentos, outros sem noção do que isso seja.
Mas hoje é dia de pagamento, e a multidão que se despeja dos carros borbulha de excitação na expectativa de ter uns dólares na mão antes do fim do turno.




Letícia bate-me na janela do lado do passageiro, e deita-me a língua de fora. Veio de algures no México, é baixinha, e luta para conter um excesso peitoral em roupas demasiado pequenas. A despeito de ter umas ancas estreitas, e um andar boto que a faz tropeçar nos próprios pés, a sua caminhada até a porta da fábrica acalma o murmúrio da multidão, e faz brotar um sussurro coletivo de desejo. Algumas bocas abrem-se quando ela passa, sobrancelhas erguem-se, enquanto alguns homens a olham fixamente, outros desviam o olhar, os magotes de mulheres olham-na de soslaio, com os seus corpos a abanarem um contra o outro como juncos sob um vento caprichoso, enquanto murmuram baixinho umas para as outras.
Letícia está sempre acompanhada de uma personagem alta e imperiosa que às vezes se passa por sua tia, e outras por irmã, mas Letícia garante-me que não há entre elas material genético comum, e que não se conheciam antes de terem chegado à Califórnia. Há um mistério implícito na relação entre elas que não me incomodo a explorar. A tia-irmã curva-se para espiar dentro do meu carro e sorri, as suas feições andróginas exibem uma dentadura branquíssima, marcada apenas por um único dente azulado entalado numa moldura de ouro.
“Letícia foi transferida para a equipa de Controlo de Qualidade,” diz-me a tia-irmã. “Já não trabalha no seu antigo grupo de galvanização. O noivo ajudou-a. Assim já não vai perder o emprego”, diz-me antes de sorrir. Aponta para o rádio de onde Reagan continua a espremer um discurso, e faz-me o gesto de “ok.”
Eles já sabem. Toda a empresa sabe que seremos quase todos demitidos na próxima semana vítimas de um despedimento colectivo, mas reagem como se tal notícia fosse irrelevante.
A tia-irmã parte em direção a Letícia, dá-lhe o braço e encaminham-se juntas para a porta da fábrica. É ainda de braço dado que começam a conversar com o noivo de Letícia. Ele é o gerente do turno diurno da inspecção de qualidade, é alto, loiro e tem um ar desengonçado. A tia-irmã deixa-os sozinhos e caminha em direção à massa dos outros trabalhadores hispânicos. Junta-se-lhes e acena com a cabeça para o que quer que esteja a ser dito na conversa. Á distância, aqui dentro do carro e sem saber o que estão a dizer, a tia-irmã parece um boneco de tabelier daqueles que abanam a cabeça com o movimento do carro.
É desconcertante ver a facilidade com que Letícia comunica com o noivo, dado que normalmente parece afligida por um tipo de sarna verbal que faz com que as frases dela nos cheguem aos ouvidos numa forma não gramatical de Inglês, sempre sublinhada por uma sintaxe suficientemente desafinada para nos atrapalhar ainda mais o entendimento. Há vezes em que eu e ela tentamos comunicar em Espanhol sem que isso dê melhor resultado. Letícia tem como língua nativa um dialeto Índio obscuro, e o Espanhol é-lhe apenas uma muleta linguística. De Inglês tem apenas uma vaga noção, apressada e estranhamente gutural.
Descobrimos que a nossa melhor opção é comunicarmos por escrito: ela tira-me a caneta do bolso do peito com um floreio exagerado, e anota rápidamente as suas mensagens num bloco que trás para registrar o trabalho. Eu respondo verbalmente, ela acena com a cabeça, diz algo ininteligível, escreve sua resposta no bloco, e repetimos o processo para criar uma forma de conversa triangulada. Esta abordagem ao diálogo impõe-nos uma grande economia à comunicação, temos que ser concisos, diretos, dispensar a maioria dos floreios, e abrir espaço para interpretações equivocadas. Para além destas conversas com Letícia, gosto de pensar que há mais significado nas nossas intenções do que nas nossas palavras, que a maioria das nossas palavras não precisa ser dita, que as nossas conversas fingidas nada mudam nas nossas vidas ou no mundo, e continuo à espera que todas as minhas outras conversas sejam assim.
Presentemente, o noivo acena, acena e acena novamente. Não fala muito, deixando Letícia preencher o espaço entre eles com a sua tagarelice ininteligível. Ficam muito próximos um do outro, mas sem se tocarem, ele fica muito direito, intenso, olhos fixos nela, enquanto ela saltita de uma perna para a outra, abana a cabeça e a sua longa crina negra, gesticula e lança faíscas de energia em seu redor.
Três longos toques de campainha anunciam o início do nosso turno. A porta abre-se, e a multidão entra.
Ronald Reagan termina sua ladainha, e o locutor começa a interpretar as palavras do grande sábio para a edificação dos ouvintes. Desligo o rádio, pego na minha marmita, e dirijo-me à porta da fábrica.
Um murmúrio persistente infecta a multidão quando entramos no prédio, picamos o cartão de ponto e dispersamo-nos. A tia-irmã sorri e mostra seu dente azul à pequena multidão centro-americana em seu redor. Letícia beija o noivo, e segue para as entranhas da fábrica. Dez metros mais à frente olha para trás, e deita-me novamente a língua de fora.




Como sempre acontece às sextas-feiras, o intervalo para jantar desencadeia um frenesim de atividade. A multidão cintila com entusiasmo assim que nos levam ao refeitório para recebermos os nossos cheques de ordenado.
Em seguida, os Persas e os Portugueses sentam-se às mesas do costume, e põem-se a mastigar os restos de comida aquecida que trouxeram de casa, trocam entre si amabilidades rotineiras e ignoram o resto do burburinho.
A maioria da multidão de língua espanhola corre para levantar os cheques do ordenado, para comprar o jantar na rulote de comida que sempre estaciona a dois quarteirões, e para adquirir drogas ilegais dos seus fornecedores preferidos.
Voltam incoerentes e de olhar vidrado. Ao regressar de levantar o cheque, a tia-irmã fica sentada à entrada do refeitório a olhar ansiosamente para o rodapé.
Letícia não sai, fica fria e indiferente perante a agitação do refeitório, passa pela minha mesa, tira-me a caneta do bolso, escreve alguma coisa e entrega-me o papel, chupa a ponta da caneta antes de a devolver, e encaminha-se para a máquina de refrigerantes. A nota indica um lugar e uma hora, pontuados com um gordo ponto de exclamação.
Ao voltar ao meu posto consulto novamente as instruções que Sandy me deixou. Não tenho muito que fazer no resto do meu turno. A nota está escrita num cursivo tão deformado que cada letra é um balão pequeno e elaborado; visto à distância, a nota parece escrita em birmanês. Sandy trabalha na minha estação no turno de dia. É uma americana loira e pálida, perenemente surpresa com tudo o que ouve. É cronicamente incapaz de soletrar, possivelmente afligida com um caso avançado de dislexia que aborda com colheradas de cocaína adquiridas ao seu namorado traficante.
Este namorado é uma figura ossuda e esguia que trabalha como guarda noturno do armazém. Está normalmente pedrado e sempre a explorar novas formas de incoerência sob o efeito de muita cocaína. Gosto de pensar que o relacionamento deles funciona porque passam tanto tempo separados, a trabalhar em turnos diferentes, sozinhos sob as luzes ofuscantes da fábrica, e sem oportunidade de se agarrarem aos pequenos irritantes um do outro, aqueles pequenos traços de comportamento que pensamos serem insignificantes, mas que significam o suficiente para inviabilizar um relação.
Volto ao trabalho e ando de um lado para o outro a tentar preencher o resto da noite.




Chegamos ao último intervalo do turno, e dirijo-me ao armazém. Um ar morno e húmido espalha-se pela noite do parque de estacionamento. As nespereiras refletem o barulho da autoestrada que fica do outro lado da fábrica. O céu escureceu, está sem nuvens nem estrelas, manchado apenas pelo brilho das inúmeras luzes da Baía de São Francisco. Enxames de insetos fazem tentativas preguiçosas de suicídio nas luzes do estacionamento.
Ao entrar no armazém aceno para o namorado da Sandy e, como se tal se fosse um sinal, ele levanta-se e cambaleia em direção às casas de banho, certamente para ajustar o nível de estimulantes que lhe correm no sangue. Dou outra olhada ao bilhete de Letícia a certificar-me da hora e do local.
Como sempre faz às sextas-feiras durante este intervalo, Letícia já está à minha espera ao fundo do armazém, sentada num sofá velho e em ruína avançada. Agrada-me imenso a regularidade das nossas transgressões, é algo que cria uma sensação de ordem, e que traz um certo equilíbrio ao caos que nos envolve todas as sextas-feiras.
Ultrapassamos os preliminares, já que não temos muito tempo até o guarda voltar da casa de banho. Letícia desabotoa a camisa, libertando uns seios enormes e irrequietos. Pausamos a apreciar o efeito, e entregamo-nos logo de seguida a um frenético desabotoar e despir, metódico e só das roupas que é essencial despir. A eficiência é um elemento crítico da nossa relação.
Ao nos aproximarmos noto como a pele dela exala um cheiro a desodorizante e creosote. A suavidade de sua pele desliza-me sob os dedos, e seu sorriso tem um brilho distante quando nos envolvemos. Nos sete minutos que se seguem, aplicamo-nos a golpes pélvicos aleatórios, contorções hesitantes, e grunhidos ininteligíveis. Tudo parece confuso mas necessário, como se isto fosse um ritual essencial à manutenção da realidade, ou algo para nos dissipar o tédio.
Luto com meu grunhido abafado em silêncio enquanto Letícia começa uma oração para a ocasião que recita no seu jargão habitual, só que agora salpicado de um Espanhol mais adequado. “Papi”, exala, “papi”. A respiração torna-se-lhe difícil, e entrega-se rapidamente a um gemer metronómico, profundo e ruidoso. Tento forçar-nos a sair do ritmo, mas há uma qualidade hipnótica em sua respiração que nos incita de volta à sincronia. E então algo na sua respiração rouca faz-me lembrar Ronald Reagan, e as suas tentativas asmáticas de sabedoria. Letícia soa como o Gipper. Uma versão do homem em Espanhol, mas uma versão que substitui sua bonomia plástica por uma persistente paixão venérea. Mas estou certo que o que me chega aos ouvidos é a voz do Ronnie, vindo até mim em ondas cada vez mais curtas enquanto Letícia solta um grito abafado e convulsiona por dois segundos antes de nosso encontro terminar.
O ar fresco da noite deixa-me sóbrio ao perceber que não haverá uma próxima sexta-feira com Letícia, que na segunda-feira serei demitido junto com um bom número de meus camaradas, e que embora o evento irá reinstalar um pouco de paz nas nossas vidas, o que se seguirá vai ser um breve período perturbado pela raiva e pela saudade, até que a nossa falta de rumo nos leve a outros corpos, noutros armazéns, provavelmente noutras sextas-feiras.




É sábado, e hoje chego apenas um minuto antes dos Persas, que saem excitadamente dos carros, e se espalham pelo estacionamento Cada um traz um saco de plástico de supermercado e vejo-os gritando uns com os outros, a apanhar nêsperas, a comê-las, e a encher os sacos de plástico. A única vez que os vejo realmente felizes é quando andam metidos nos arbustos a apanhar nêsperas sob o calor suave do sol Californiano.
Letícia foi dispensada de fazer horas extraordinárias, dado que o Controle de Qualidade só volta a trabalhar na segunda-feira. A multidão hispana parece abatida e desorientada, limitam-se a sorrir uns para os outros com um ar vazio, e a evitarem qualquer interação social. Na segunda-feira, a maioria será demitida, mas hoje de manhã debatem-se apenas com a necessidade de aliviar as ressacas antes que a campaínha da fábrica toque.
O tempo tem arrefecido à medida que a semana passou, mas mantenho as janelas do carro abertas. Ronald Reagan volta à rádio exalando outra torrente de chavões soporíferos sobre os males da União Soviética. Enrouquece à medida que vai falando, mas ouço-o claramente sobre o fraco crepitar da estática do rádio. Parece hesitar a certo ponto do discurso, o crepitar da estática transforma~lhe algumas palavras numa sugestão de gemido, mas volta imediatamente à sua declamação arrastada e ofegante. E é então que o ouço chamar-me “papi”.
Tenho certeza de que Ronald Reagan gemeu e me chamou “papi!”
Adelino de Almeida
Julho, 2022
Fotos de Manuel Rosário e Minnie Freudenthal