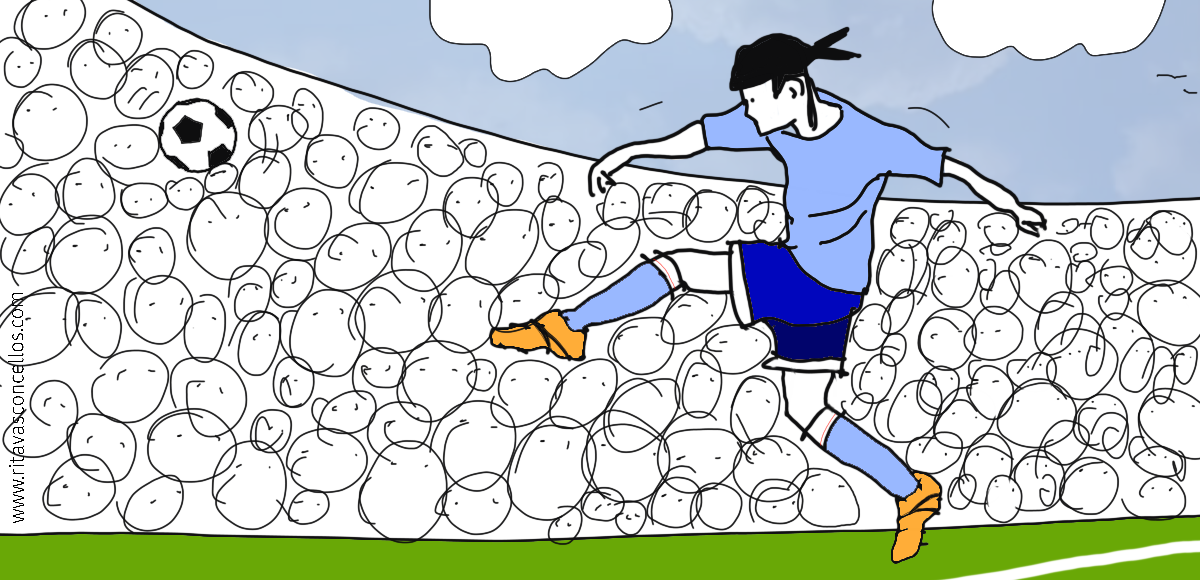Mourato
Mourato entrou a correr no balneário; o jogo não tinha corrido como esperava. A equipa tinha ganho, mas ele não estava satisfeito com a sua prestação. Colocou o código do cacifo e abriu a porta metálica onde guardava os pertences. Sentou-se no banco corrido e começou a descalçar os sapatos de marca que o padrinho lhe oferecera quando soube que Mourato tinha sido escolhido para integrar o clube de futebol da colectividade.
Abriu o fecho da bolsa azul e tirou a pomada artesanal que usava religiosamente antes e depois de cada jogo. Espremeu a bisnaga e, com rigor técnico, esfregou as pernas até aos pés, pressionando ligeiramente as articulações e soltando os músculos tensos e inflamados pelo esforço. Envolveu primeiro o pé direito com uma mistura de argila e alecrim e depois deu a mesma atenção ao pé esquerdo. Nos pontos de maior dor, notava-se que fazia um esgar de sofrimento, mas insistia na massagem sem parar. Afinal de contas, era a parte do corpo que lhe tinha granjeado a fama e garantia a pontaria certeira dos golos que lhe concediam a glória.
Depois desta primeira passagem, trocava os unguentos por uma mistura de linhaça e mel, adicionados a uma gordura semelhante à banha de porco. Esta exalava um odor que o levava a uma memória de infância, ao cheiro do campo e ao dia da matança do porco. Uma porta a bater com força despertou-o do movimento mecânico e ritmado que o relaxava, e a memória esfumou-se em segundos.
“Ainda cá estás?”, perguntou-lhe o treinador, que já tinha festejado a taça no campo. “Vim buscar as minhas coisas”, respondeu-lhe Mourato, ao recolher a parafernália de suplementos e bisnagas que tinha espalhado no banco onde se sentara. “Estão todos à tua espera no autocarro para irmos embora, despacha-te!”, gritou irritado.
José Mário era um treinador da velha guarda. Tratava os seus atletas como se ainda estivesse no quartel com os seus soldados. Nem todos os jogadores suportavam os seus modos e o ambiente tornava-se, por vezes, tenso, com queixas por parte dos colegas jogadores. “Deixa lá os pezinhos e anda daí!”, rosnou antes de atirar com a porta do balneário ao sair.
Mourato sentiu uma raiva sem explicação. Ele tinha sido o responsável pelos dois únicos golos da equipa e sentia que merecia outra atenção. Enfiou os seus pertences na mochila, fechou o cacifo e enviou à mãe um sms curto: “Querida mãe. Ganhámos. Daqui a três horas estou em casa. Beijo.”
No autocarro, a algazarra era imensa e Mourato ainda sentia os músculos a latejar, mesmo depois dos alongamentos e da massagem. “O pé direito do Mouratinho tem que ser benzido!” gritou Rafa, ao mesmo tempo que o abraçava até ele ficar sem respiração. O espaço entre cadeiras era curto e os braços fortes de Rafa sufocavam-no contra as costas almofadadas. “Deixa-me, pá!” gritava Mourato, bem-disposto, e voltou a lembrar-se da promessa de Rafa quando acabaram o liceu. “Sempre juntos, venceremos.”
O autocarro seguia já a grande velocidade pela auto-estrada quando o cansaço deu lugar à excitação do dia. Aqui e ali avistavam-se nucas a cabecear, e as luzes que iluminavam o interior apagaram-se para deixar descansar os heróis do dia. Mourato esticou as pernas, ainda doridas, e espreitou lá para fora, onde a noite começava a cair. Tirou um lenço de papel do bolso e limpou a janela, que parecia embaciada pelo orvalho nocturno. A humidade do vidro lembrou-lhe os arrepios de frio que sentia na época das chuvas quando, garoto, levava as ovelhas a pastar.
“Como teria sido a minha vida se tivesse ficado na aldeia?”, pensou, imaginando os dias passados a brincar entre os campos e os riachos, longe das exigências do futebol. O avô, homem do campo de pele bronzeada e queimada pelo sol, dizia-lhe muitas vezes: “Vai à tua vida, rapaz, que a morte é certa se aqui ficares a pastar.” Mas era naquelas paisagens serenas e geladas que Mouratinho, encontrava a paz e a liberdade que não tinha em casa. Era o sétimo filho de uma família pobre e trabalhava desde os seis anos no campo.
As luzes ritmadas dos postes de iluminação da via trouxeram-no de volta ao presente. Mourato sacudiu a memória, colocou os earphones e deixou-se embalar pelo vaivém do movimento do autocarro.

Maria
Era tarde. Estavam a acabar de jantar. Jorge, o operador de câmara escalado para aquele dia, Raul, o motorista convocado de última hora para cobrir os fogos, e a jornalista de reportagem, Maria Maria.
“Mas afinal, explica-me lá. Maria é apelido ou gostas de ouvir o eco do teu nome?” perguntou-lhe Raul de forma descontraída. Maria Maria sorriu enquanto recolhia os pratos vazios. “É apelido mesmo. Maria é o nome que os meus pais me deram duas vezes,” respondeu, provocando risos entre os três.
Estava na hora do café e chamaram o empregado. Maria adiantou-se e pediu “Três bicas. Uma é normal em chávena fria, a outra é curta, e a última, se faz favor, é sem princípio.”
O empregado, cansado, hesitou. Ficou na dúvida se devia responder que àquela hora todas as bicas eram iguais, mas ao encontrar o olhar azul de Maria, sentiu-se cativado e obedeceu sem pestanejar. É tarde e ainda não acabámos o trabalho,” disse Jorge enquanto bebia de um trago o café. “Ainda temos uma área grande para cobrir e entrevistar o Chefe dos Bombeiros que está de sobreaviso na Serra dos Candeeiros.”
Pediram a conta e saíram em direcção ao carro. Raul avisou que tinham ainda de encher o carro de gasolina para poderem fazer o trajecto sem mais paragens. Maria olhou para o telemóvel para confirmar os locais das reportagens que lhe tinham enviado do canal. Tinha três mensagens por ler no Whatsapp e uma chamada não atendida do marido. Leu as mensagens e esperou por ter melhor rede para ligar ao António. As crianças tinham ficado a cargo dele e àquela hora não devia ser nada de importante, pensou. O trajecto até à estrada da serra era longo, mas a auto-estrada ainda estava relativamente tranquila. No céu, a noite estava límpida e estrelada. Maria aproveitou para ligar novamente ao marido. “António, desculpa por não atender mais cedo. Está tudo bem aí em casa?” perguntou, aliviada ao saber que as crianças já estavam a dormir tranquilamente.
“Aproveitem o trabalho e não se preocupem connosco,” respondeu António do outro lado da linha. “Maria…” mas o telemóvel já tinha perdido a rede. Maria já não o ouvira, e Raul aproveitou para pedir licença para fumar um cigarro electrónico. Inclinou-se para abrir o porta-luvas onde guardava o aparelho e reparou numa luz fora do comum no céu.
“Sabem que a zona que vamos atravessar tem fama de ter avistamentos de OVNIs.,” informou Jorge, abanando a mão para dissipar o fumo e o cheiro do vício de Raul. “É pá, essa merda cheira a pum e não há quem se lembre de fumar num carro fechado com 3 pessoas!”
Maria sorriu. O irmão Rafael tinha uma colecção de pequenos homenzinhos verdes de olhos pretos e era fanático por vida extraterrestre ao ponto de passar com o amigo Mourato horas a fio debatendo teorias conspiratórias sobre encontros iminentes com seres de outros planetas.
Maria tinha uma grande admiração pelo irmão. Foi Rafa quem pagou as propinas e a sua entrada na vida universitária. Licenciada em jornalismo, Maria estava habituada a ouvir o irmão dizer que, se não fosse futebolista, teria sido piloto da Força Aérea para estar mais perto do céu.
Eram 23:00h e já estavam próximos da saída para a serra quando o inevitável aconteceu. Um autocarro enfurecido surgiu a grande velocidade, galgando o separador central e deixando um rasto de destruição ao rasgar a chapa metálica protectora da via, embatendo em três automóveis que vinham na direcção oposta. Na calada da noite, de forma inesperada, atingiu lateralmente o carro da equipa de reportagem.
O impacto foi repentino e violento. Maria foi projectada contra o cinto de segurança, enquanto Raul, ao volante, lutava para manter o controlo do veículo. Vidros partidos, metal retorcido e o som ensurdecedor da colisão encheram o interior do carro. Jorge, no banco traseiro, gritou de susto, tentando segurar-se enquanto o veículo era empurrado para fora da estrada.
Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, o carro finalmente parou, imobilizado na berma da auto-estrada. O silêncio que se seguiu era quase surreal, contrastando com a violência do momento anterior.
Maria tentou recuperar o fôlego, verificando se tinha algum ferimento. Raul e Jorge, visivelmente abalados, começaram a confirmar o estado de todos. Pouco a pouco, os sons da noite voltaram a preencher o ar, mas a serenidade estrelada da noite tinha sido abruptamente interrompida pela tragédia que acabavam de enfrentar.

Em Casa
O porão das malas estava cheio quando Alberto fechou o compartimento. O jogo ainda estava a decorrer quando ele decidiu passar na casa de apostas. Do lado de fora, ouviam-se os cânticos do jogo, e no café, pela televisão, viu o segundo golo da “promessa dourada”, como era chamado. Pagou a aposta com trocos e foi beber umas cervejas com o prémio que tinha ganho na raspadinha. Nunca lhe saía nada, por isso ficou surpreso ao perceber que tinha um cartão vencedor debaixo da moeda com que raspou o cartão.
Pediu uma imperial sem espuma e matou a sede de um trago. Na rua, a rapaziada acumulava-se na entrada do estádio, à espera de um deslize da equipa de segurança para saltar a cancela que dava acesso directo ao recinto. Alberto estava à espera que o jogo acabasse para transportar os jogadores de volta a casa. Já era um pouco tarde quando, rodeados de medidas de segurança, os jogadores entraram no veículo climatizado, prontos para a viagem. Fizeram-se à estrada, não sem antes acenarem ao povo que, na rua, os felicitava ao longe pelo resultado.
Alberto estava habituado a guiar com um “grãozinho na asa”. Lembrava-se da última vez que atravessara os Pirenéus depois de ter bebido para além da conta e reconhecia que, à noite, era mais difícil ver a estrada quando esta não tinha iluminação. Não era o caso desta vez. A auto-estrada tinha pouco trânsito e, em breve, estariam em casa. Tranquilo, ligou o rádio baixinho.
Naquele momento, a única coisa que incomodava Alberto era o seu ombro direito. O médico tinha-lhe diagnosticado uma tendinite crónica causada pelos anos que guiara camiões TIR através da Europa. Sorriu. Muito contrabando tinha feito sem ser apanhado, pensou.
O veículo percorria a estrada dentro dos limites impostos para a zona, e o sossego que se tinha instalado anunciava a chegada de Morfeu aos “bravos do pelotão”. Dormiam. Alberto aproveitou para avisar a sua mulher das horas a que pensava chegar. Esticou o braço e, com dois dedos da mão direita, tentou puxar para fora da prateleira o invólucro colorido que protegia o seu telemóvel. A capa, velha e gasta pelo uso, tinha o emblema do clube nas costas e as assinaturas de todos os jogadores à frente. Era quase uma relíquia que lhe dava sorte, e por isso a mantinha com cuidado e lisura.
O aparelho estava preso. Alberto inclinou o corpo um pouco mais para alcançar o pequeno compartimento onde tinha o hábito de guardar o telemóvel. Desviou por segundos o olhar da estrada para perceber onde estava preso o telefone, puxou com mais força, conseguindo finalmente soltá-lo. No momento em que voltou a colocar as duas mãos no volante, já não teve capacidade de manter o veículo na estrada. O autocarro atravessou o separador central da auto-estrada, os pneus chiaram no asfalto e o som do metal a colidir ecoou. Só se imobilizou depois de embater em vários carros, que lhe serviram de parede.
Depois do choque, o silêncio. Alberto tinha sido projectado pela janela frontal da máquina que era sua companheira há anos. Os rapazes adormecidos acordaram com o estrondo e gemiam. O treinador José Mário estava agarrado à cabeça, que sangrava. “Ai, meu Deus!” exclamava.
Mourato sentia-se leve. Estava sentado à beira do precipício e não percebia porque estava rodeado de ovelhas. Tinha acabado de ouvir um estrondo que não identificou e, apesar das ovelhas não se mexerem, reconheceu a paisagem que o rodeava. Era um campo verde até perder de vista, repleto de flores e cores que nunca tinha visto nem sabia que existiam. Sentiu um amor incondicional por tudo o que o rodeava. Foi então que avistou o seu avô, caminhando na sua direcção. Desconcertado, Mourato levou a mão à cara, tocou no seu corpo e os gestos pareciam mais lentos do que o costume. O avô, que parecia estar longe, estava agora ao seu lado e falou-lhe baixinho. “Então? Faltaste às aulas para vir brincar para o campo?”
Mourato olhou para o seu avô com lágrimas nos olhos e perguntou: “És mesmo tu, avô?”
O avô sorriu-lhe, pousou o braço no ombro do rapaz e, com uma voz suave, disse-lhe: “Sou eu, sim. Mas ainda não é o teu tempo aqui. O teu novo caminho começa agora e acredita que estarei sempre contigo. Agora, prepara-te para voltar.”
“Mas, avô… onde estou?”
“Em casa, meu filho.”
Mourato não teve tempo para fazer mais perguntas. Estava já na ambulância a ser reanimado. Só conseguia ouvir uma voz que reconheceu ser de Rafa.
“Meu! Estou aqui. Volta. Estás a ouvir? Não me morras, pá! Acorda, meu!”
Mourato abriu os olhos lentamente e viu Rafa sorrir. Lembrou-se.
“Sempre juntos. Venceremos.”
Texto e desenhos de Rita Roquette de Vasconcellos
Outubro, 2024