Pouco tempo antes de começar entre nós a pandemia, publiquei no Público de 24-2-2020* um texto acerca de mais uma crise do SNS que se revelara no ano de 2019 através de múltiplos sinais (falta de médicos, subfinanciamento, urgências a abarrotar) e que o governo se propôs resolver com 800 milhões de euros e um conjunto de medidas avulsas. Escrevi então que, anos volvidos, iríamos assistir a um cenário idêntico e não me enganei: cá estamos de novo.
Fazia na altura uma pergunta “Será que esta crise é diferente das anteriores?”. E respondi que sim por razões que tentei explicar e às quais julgo oportuno acrescentar mais alguns comentários.
1 – A ideia de um “Serviço de Saúde” surgiu entre nós pela primeira vez no Relatório sobre as Carreiras Médicas (1961) como um “instrumento de bem-estar social, dando a todos acesso aos benefícios da medicina moderna”. Anos depois Gonçalves Ferreira, em pleno marcelismo (1970), veio propor a criação de um “Sistema Nacional de Saúde” que, obedecendo ao “reconhecimento do direito à saúde para todos os cidadãos”, era definido como “um conjunto articulado de actividades de interesse nacional, regidas pelo Estado, mas de iniciativas diversas …”. Nenhum destes projectos se concretizou e foi preciso esperar pela Constituição de 1976 que no seu Artigo 64º dizia expressamente: 1. Todos têm o direito à saúde e o dever de a defender e promover. 2. O direito à protecção da saúde é realizado pela criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito.
Nem todos os artigos da Constituição se cumpriram, mas este encontrou o mensageiro certo, António Arnaut. Foi ele que, em 1979, redigiu e fez aprovar na Assembleia da República a lei que, no seu artigo 1º, dizia concretamente: “É criado, no âmbito do Ministério da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pelo qual o Estado passa a assegurar o direito da saúde nos termos da Constituição”. Nunca foi dito que no SNS o Estado seria o único prestador de serviços, mas sim o financiador e o garante da saúde de todos os cidadãos. Para isso, poderia recorrer a privados, sempre que entendesse, através de convenções. Foi o que aconteceu e acontece ainda, com as análises clínicas, os exames imagiológicos, a hemodiálise e outras prestações que por variadas razões o Estado não está em condições de fornecer.
Entretanto, passaram-se 43 anos, surgiu uma rede de hospitais privados, cresceu o mercado dos seguros de saúde e aumentou a procura de serviços de saúde por parte dos cidadãos. Uma coisa não mudou: a formação de especialistas que continua a ser exclusiva do sector público, de onde saem, para o sector privado, sem qualquer contrapartida, médicos diferenciados. Ora não se pode esquecer que formar especialistas exige tempo e custa muito dinheiro.
Sempre me pareceu que seria fácil e constitucional o sector público contratar com hospitais privados, até porque hoje se conhecem bem os custos dos diversos actos médicos e cirúrgicos e não parece, portanto, muito complicado organizar preçários aceitáveis por ambas a partes. Mas, para isso, impõe-se que os privados funcionem com regras idênticas aos hospitais públicos, abrindo urgências pluridisciplinares a funcionar presencialmente 24 horas por dia, atendendo doentes críticos e não apenas, como alguém dizia com graça, “adoentados” e prestando assistência, até “ao fim da linha”, à população a seu cargo.




2- Diz-se que a crise actual tem razões políticas cuja finalidade é destruir o SNS. Talvez seja assim. Mas a responsabilidade principal do que está a acontecer tem rosto e deve-se sobretudo a uma mudança de poder que marginalizou os médicos e os afastou dos centros de decisão. É por isso preocupante ouvir agora, aqueles (ou os sucessores daqueles) que destruíram carreiras, desvalorizaram hierarquias médicas, burocratizaram o trabalho médico e, paulatina e sistematicamente, deram cabo de uma “estrutura” que funcionava e que foi um dos pilares dos êxitos do nosso SNS, dizerem-nos que é preciso fazer reformas “estruturais”. São os mesmos que abriram a porta e tornaram possível este abjecto sistema dos tarefeiros, em que os serviços públicos chegam a contratar por um preço cinco vezes mais alto, os especialistas que formaram e que não foram capazes ou não quiseram conservar.
3 – Porque, foi exactamente o que aconteceu. Quem, há cerca de duas décadas, assistiu à debandada de muitos especialistas que, no auge da sua carreira, aproveitando legislação avulsa, abandonaram o sector público, sabe bem do que estou a falar. Tinham por volta de 50 anos, pertenciam a serviços onde se tornaram especialistas e onde gostavam de trabalhar por “amor à camisola”, apesar dos baixos salários. Aí contribuíam para a formação de jovens médicos e estavam inseridos numa cadeia geracional e numa hierarquia técnica que caracterizam uma “escola”. Alguns talvez tenham ido à procura de melhores remunerações, mas a maioria, apenas fugiu às exigências burocráticas, às imposições de regras sem sentido, à perda de autonomia e à desvalorização técnica. A sua saída do sector público deixou para trás serviços decapitados e as consequências devastadoras não eram difíceis de prever na altura: falta de especialistas no sector público, urgências a fechar e, passados uns anos, indicadores inquietantes como aumentos da mortalidade global e da mortalidade materna. O que aconteceu, entretanto, foi que com o crescimento do sector privado e a enorme disparidade dos salários, muitos médicos, terminada a especialidade, continuaram a abandonar o sector público sem que nada tenha sido feito para os reter.
Por tudo isto, as reformas que se anunciam agora, não são motivo para grandes optimismos. Os protagonistas são os mesmos e, embora sabendo-se que “não falta dinheiro”, o pior ainda pode estar para vir.
3- Finalmente um comentário sobre os médicos de família. Começam a ouvir-se vozes sensatas que nos dizem aquilo que há muito tempo era evidente. Nesse sector, o problema não é apenas números e dinheiro, mas sobretudo meios técnicos, horários, acessibilidade, perfis profissionais, proximidade, relacionamento médico-doente. O que é necessário é uma mudança conceptual que, a fazer-se, permitiria resolver as situações agudas não emergentes. Sutura de feridas contusas, traumatismos sem gravidade, síndromes febris indeterminados, diarreias agudas, etc. etc., tudo isso poderia ter solução a montante, aliviando as urgências hospitalares. Esperemos que este seja um dos pontos abordados nas “reformas estruturais” que se anunciam. Se se resolver, já não seria mau.
António José de Barros Veloso
Junho, 2022
* Ver artigo
Fotos de Manuel Rosário e Minnie Freudenthal






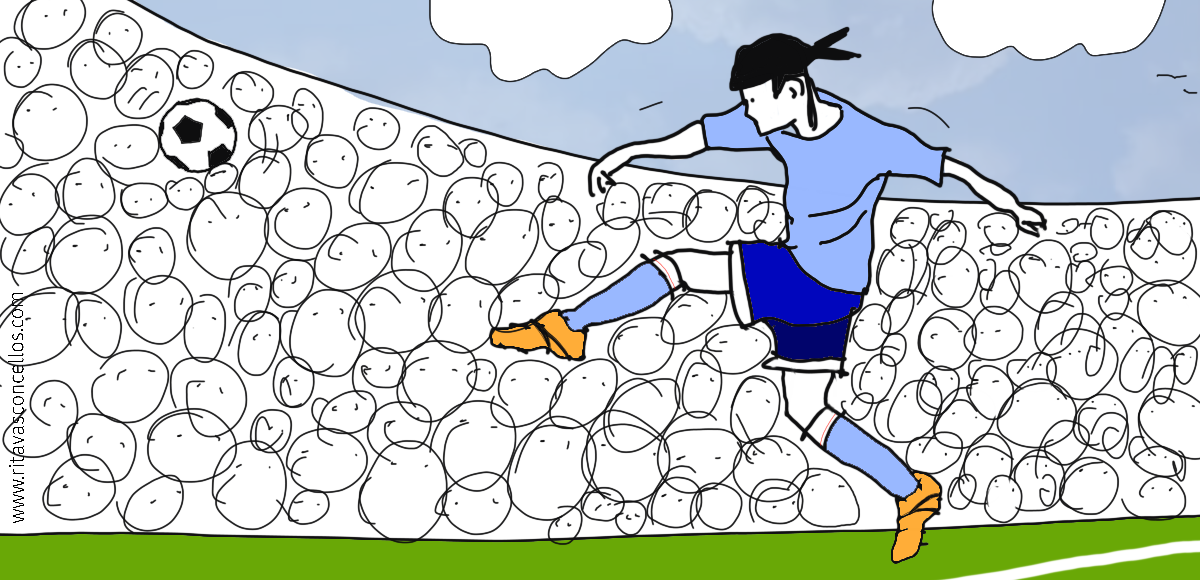




Helena Sacadura Cabral | 2022-07-17
|
Meu caro amigo.
Até um leigo o compreende, tal a objetividade do que escreveu!
António José Barros Veloso | 2022-07-18
|
Muito obrigado. Grande abraço..