Antes de o céu ser azul
Ou como as palavras criam o mundo
Jared Diamond explica que o ímpeto para a escrita da sua obra Guns, Germs and Steel, foi uma pergunta que um aborígene da Nova Guiné lhe fez: dado que não há diferenças fisiológicas ou mentais de nota entre os aborígenes e os Europeus, como se explica que estes últimos tenham desenvolvido a sua sociedade a um ponto que é quase impossível de imaginar para os primeiros?
Embora me falte o génio intelectual (e o rigor científico) de Jared Diamond, tive recentemente uma experiência que me levou a uma pergunta similar: ao visitar uma área do território Navajo famosa pelos seus canyons, deparei-me com uma população a falar a sua língua nativa, que é conhecida pela sua extrema complexidade, (tornada famosa pelo filme Code Talkers.) E foi assim que me ocorreu a pergunta: será que ao falarem uma língua tão complexa e tão diferente da minha, os Navajo têm uma percepção diferente do mundo ou, a um ponto extremo, vivem num mundo vagamente removido do meu?
Não me pareceu que a questão se enquadrasse nas especulações à lá Wittgenstein, dado que não se refere a matérias de gramática ou de sentido ou interpretação, mas sim à necessidade de construir e expandir um vocabulário que descreva uma realidade dinâmica, uma realidade maleável em que coisas e qualidades aparecem e desaparecem com a nossa capacidade de as descrever.
Rodeado por uma geologia agreste e um céu magnífico e profundo, lembrei-me da cor azul e dos problemas e possibilidade que ela levanta. Ora vejamos:
Em 1850 William Gladstone (que mais tarde seria Primeiro Ministro do Reino Unido) reparou que na Odisseia as descrições que Homero fez das cores eram um tanto bizarras; por exemplo, tanto o ferro das armaduras como as ovelhas eram descritos como sendo violeta, o mel era descrito como sendo verde, e o mar como sendo de um vinho tinto escuro. Nenhuma destas descrições correspondia às convenções de cor na Europa do século XIX.




Investigando um pouco mais o assunto, Gladstone decidiu contar a frequência com que apareciam descrições de cores na Odisseia, e deparou-se com algo suspeito: as referências ao preto aparecem 200 vezes, as referências ao branco aparecem 100 vezes, e as outras cores aparecem com uma frequência significativamente menor; assim, o vermelho aparece menos de 15 vezes, o amarelo e o verde menos de 10 vezes. O azul nunca aparece.
Levando esta investigação um pouco mais além, e depois de espiolhar outras obras Gregas Clássicas, Gladstone foi incapaz de encontrar uma referência ao azul. Aliás, a palavra não existia na Grécia Clássica.
Um pouco ao mesmo tempo, mas desta vez na Alemanha, o filólogo Lazarus Geiger, chegou à mesma conclusão depois de passar a pente fino a literatura Islandesa, o Corão, histórias Chinesas clássicas, a Bíblia em Hebreu, assim como hinos Védicos. Em suma, o Mundo Clássico – desde a Europa até à Ásia – parecia paradoxalmente livre da cor azul, isto a despeito das incontáveis e detalhadas descrições de mais ou menos tudo e mais alguma coisa contidas nestas obras.
E como estes paradoxos merecem sempre uma investigação mais aturada, Geiger decidiu fazer um estudo longitudinal dos seus dados, e concluiu que a Humanidade criou descrições para cores de acordo com uma sequência na qual o preto e o branco (e os seus equivalentes “claro” e “escuro”) apareceram primeiro, o vermelho – a cor do sangue – apareceu a seguir, depois apareceu o amarelo, seguido do verde (embora em algumas culturas a ordem do aparecimento destas duas cores seja inversa) e, por fim – e muitíssimo mais tarde – o azul.
No mundo antigo só os Egípcios tinham uma palavra para a cor azul, tal como tinham a habilidade de produzir pigmentos azuis.
E claro, isto levanta a questão: será que os povos antigos podiam ver a cor azul? Dado que a nossa fisiologia não mudou nos últimos três a quatro mil anos, a inferência é que sim, que podiam ver a cor azul. Mas, curiosamente, a realidade não parece validar esta inferência, ou seja, a nossa fisiologia não mudou, mas a percepção de cor (e, quem sabe, a percepção de algo mais) não é a mesma hoje que era no mundo clássico.




É isto que se pode deduzir de uma série de simples testes efectuados por James Davidoff na Namíbia. A tribo Himba tem uma grande variedade de termos para descrever diferentes tons de verde, mas não tem a capacidade verbal de distinguir entre o azul e o verde. Davidoff apresentou-lhes uma figura com 11 quadrados orientados em círculo, em que 10 eram verdes – todos do mesmo tom – e um era azul. Por mais que tentassem, os Himba viam-se incapazes de identificar o quadrado azul por entre os outros quadrados verdes. Alguns acertaram, e identificaram o quadrado azul mas só ao fim de inúmeras tentativas erradas e grande frustração.
Davidoff decidiu expandir o seu estudo; assim, preparou uma figura similar à que mostrou aos Himba, mas que desta vez tinha 10 quadrados de um tom verde que os Himba identificaram por uma palavra, e um quadrado com noutro tom de verde que os Himba também descrevem facilmente. Todos os Himba identificam o quadrado de tom diferente, mas quando Davidoff apresentou a figura a sujeitos em Inglaterra, nenhum conseguiu distinguir os diferentes tons de verde.
Ora façamos uma pausa para resumir e ampliar alguns destes pontos: o mais saliente talvez, é que o mundo parece ter sido incolor até ao aparecimento de palavras que descrevem cor, outro ponto importante é que a nossa percepção das cores depende da existência de termos para as descrever, assim, os Himba conseguem distinguir tons de verde que são invisíveis a outros povos cujos idiomas não têm termos para os descrever, e são incapazes de ver o azul e não têm termo para descrever essa cor. Mais ainda, poder-se-ia considerar que não sabemos se a percepção precede o termo que a descreve, ou se o que se passa é o inverso, e aqui o que todos estes dados indicam é que, sem haver um termo que descreva uma cor, é pouco natural que uma pessoa seja capaz de a ver.




Assim, se expandirmos estas observações para além da percepção de cores, podemos começar a gerar conclusões que são tão especulativas quanto interessantes. Ora será que o nosso olfacto é limitado porque não temos palavras para descrever os cheiros? Quantos mais paladares há que ainda não distinguimos por falta de termos descritivos que nos permitam identificá-los (o caso do paladar umami – identificado e reconhecido pelos Japoneses, mas desconhecido até a palavra ter sido importado para as línguas Ocidentais – é um exemplo que vem à mente)? Então e se, como no Budismo, a mente for considerada como um órgão de percepção, e pensarmos que pode haver sentimentos, impulsos, e sabe-se lá que mais, que não reconhecemos porque não temos palavras para os descrever? Quanto no nosso mundo interior está ainda por reconhecer simplesmente por carência de palavras? E que distorções assolam o mundo de quem padece de dislexia?
A criação de palavras expande a nossa percepção, e é como se expandisse o nosso mundo. Podemos ter até o arrojo de especular que a variedade e amplidão do mundo em nosso redor está dependente da extensão do nosso vocabulário, que aqueles que têm um vocabulário mais rico, habitam um mundo mais vasto e variado dos que usam só um módico de palavras. Podemos também especular que a exploração da realidade é um processo principalmente verbal: é um pouco como se uma planta ou um mineral não existissem até que lhes tenha sido dado um nome, e que há magia na ciência, tanto quanto a há na literatura, e que a invenção de palavras é o encantamento que traz à luz novos recônditos da realidade, ou, a um extremo, este encantamento gera novas realidades.
Adelino de Almeida
Abril, 2022

Fotos de Manuel Rosário






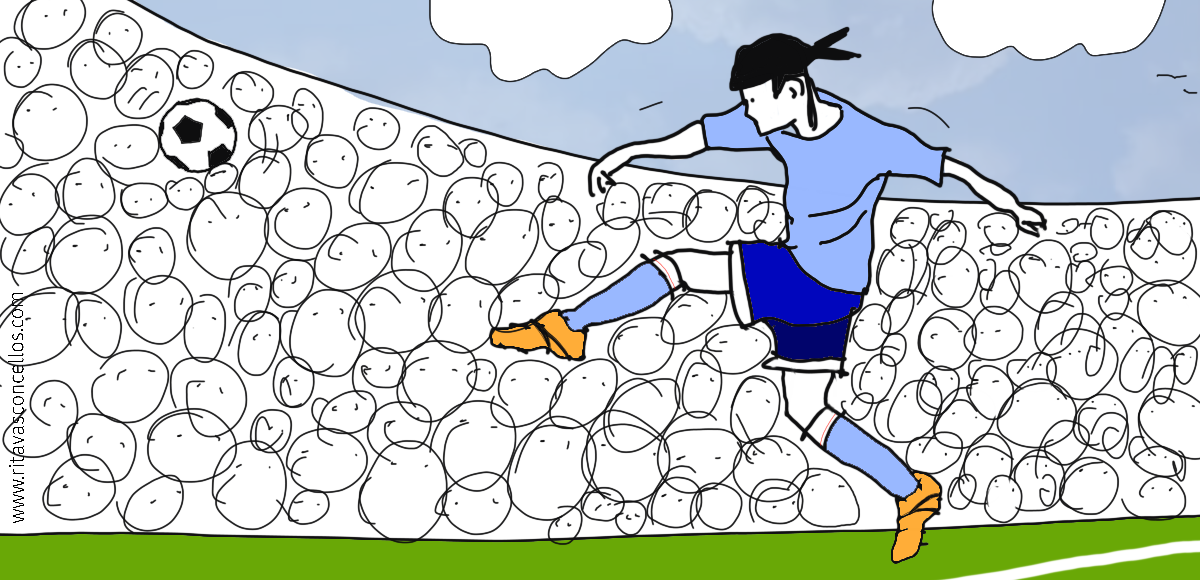




Jose Vaz Carneiro | 2022-04-03
|
Antes da WWII apareceu a hipótese de Sapir-Whorf, de que este artigo do Adelino de Almeida trata. Antropólogos estudiosos das linguagens dos índios da America do Norte, mutuamente inínteligiveis e às centenas, pertencentes a meia dúzia de grandes raízes linguísticas, avançaram a hipótese de ser a língua uma causa determinante da visão do mundo.
Se nos limitarmos à semântica de palavras/conceitos individuais, como Schadenfreude, Sturmfrei, Umami, etc. parece que somos capazes de apreender o sentido de palavras estrangeiras não existentes na nossa língua. Mas quando em cima disso enfrentamos uma complexidade gramatical absurda, como nas línguagens dos índios americanos, a hipótese de Sapir-Whorf faz todo o sentido. E quando uma dessas línguas desaparece é uma visão do mundo que se extingue.
Que seria do Azul se não existisse o Encarnado ?
Obrigado Adelino
Isabel Almasqué | 2022-04-05
|
A realidade depende dos nossos sentidos ou é independente dela? A nossa percepção da realidade modifica-a? Sem querer entrar no mecanismo da visão das cores que é muitíssimo complexo, nunca podemos ter a certeza que determinada cor a que se convencionou chamar azul ou amarelo, é vista da mesma maneira por pessoas diferentes. O facto de não se conhecer a palavra azul modifica a cor do céu? Quem diz cores, diz outra coisa qualquer. A realidade resume-se à nossa realidade, aquela que é por nós percepcionada ou está para além dela?
O conhecimento é inato ou adquire-se com a experiência? Platão ou Aristóteles?
Adelino de Almeida | 2022-04-06
|
…. ou talvez Fernando Pessoa: como vivemos eternamente na nossa cabeça – vítimas de um inegável solipsismo – acabamos por viver para sempre num sonho, e é assim que “o Homem é do tamanho do seu sonho”